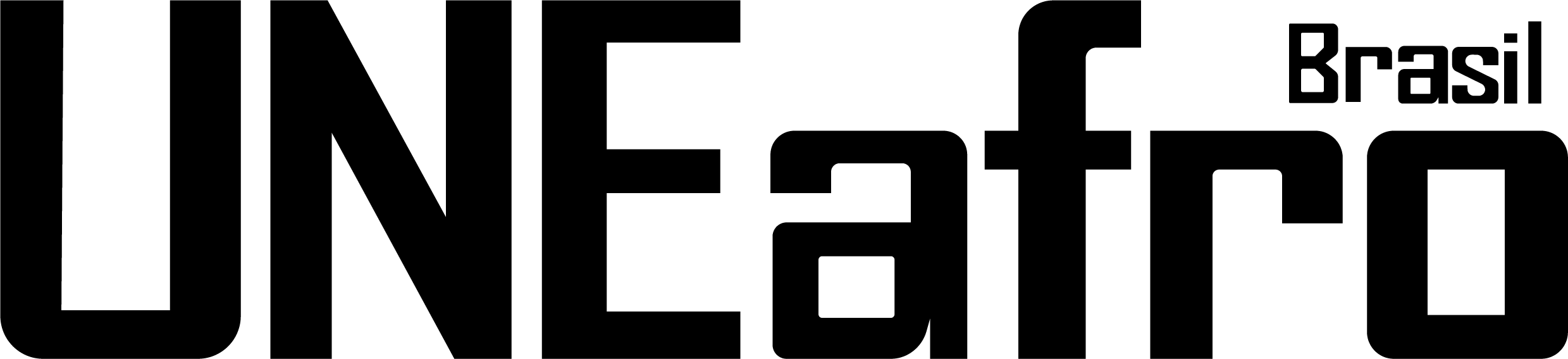O Brasil branco não entendeu quando, no dia 13 de abril, Paulo Sérgio Ferreira, 38 anos, escalou o mastro e queimou a bandeira brasileira que fica na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Desempregado, Sérgio explicou o seu gesto acusando o Brasil de ser uma “pátria assassina de negros”. Não poderia haver protesto mais eloquente e mais incisivo. No Treze de Maio, nossas vozes se somam ao protesto silencioso de Paulo Sérgio para denunciar a morte prematura e previsível de jovens negras e negros no país da democracia racial.
O Mapa da Violência 2011, um lançamento conjunto do Ministério da Justiça e do Instituto Sangari, dá uma dimensão da distribuição calculada da morte nas periferias brasileiras. Os pesquisadores têm identificado um “padrão da mortalidade juvenil” que elege jovens negros urbanos como as principais vítimas dos assassinatos no país. Se o assassinato de jovens já expõe a tragédia programada do Brasil do futuro, o assassinato de negras e negros expõe também a necropolítical racial do país. Negros morrem mais e mais cedo do que os brancos. A taxa de homicídio juvenil é proporcionalmente 103,4% maior entre os negros que brancos. Em alguns estados a taxa de vitimização juvenil é tão exorbitante que mesmo os mais cínicos críticos do termo genocídio, para se referir ao massacre cotidiano negro, teriam dificuldades em justificar o injustificável: na Paraíba e em Alagoas, os estados que mais matam jovens, o índice de vitimização negra é de 1971,2% e 1304,0% respectivamente.
Quando Paulo Sérgio denunciava a “pátria assassina de negros”, jovens negros eram assassinados no subúrbio ferroviário de Salvador e na Baixada Fluminense. Na Baixada Santista, mães enterravam os corpos de outros tantos mortos em mais uma chacina e na capital paulista a polícia militar lavrava mais uma ‘resistência seguida de morte’. Queimar a bandeira brasileira, neste contexto, é gesto politico imperativo para mostrar a impossibilidade negra no projeto de nação brasileira. Qual o lugar de negras e negros na nação verde-amarela? O que a morte prematura e previsível de jovens negros tem a nos dizer sobre as maneiras como a nação tem sido historicamente imaginada entre nós? O que a persistência da morte negra revela – e oculta – sobre a natureza antropofágica da democracia racial brasileira?
A verdade é que a maior nação negra fora do continente africano tem uma dor de cabeça histórica de onde situar os seus negros. Certa obsessão antropológica tem exaustivamente nos situado no botequim, no samba, na capoeira. Ali somos o Brasil exótico. Na mulata tipo exportação e nos meninos do futebol temos uma reatualizacão do colonialismo, agora no sentido colônia-metrópole. As imagens do corpo negro são consumidas no esporte, no carnaval, nas narrativas da violência em filmes como Cidade de Deus e Tropa de Elite. Em todas elas uma simbiose entre violência física e simbólica produz a morte programada e ritualizada. Afinal, não seria esta reiteração simbólica do corpo negro como descartável, feio, sexualmente disponível, e perverso,o que pavimenta o caminho para a sua liquidação total?
Se considerarmos, ainda que por um momento, o fato de que a presença negra continua um incômodo para o progresso brasileiro, e, como nos lembra Thomas Skidmore, o desafio para o Brasil entender a si próprio, poderemos entender o porquê da aceitabilidade da matança negra. Nem a África do Sul no auge do seu apartheid assassinou tantos negros como por aqui. E, embora a ditadura militar brasileira tenha sido cruel e sangrenta, a escala de desaparecimentos políticos do regime militar não comporta comparação com os números do extermínio negro.
Porque o Brasil ainda não entendeu o significado das feridas abertas – e ainda não cicatrizadas – do Atlântico Negro, e porque o movimento social não-negro, as esquerdas brasileiras, ainda têm dificuldades em aceitar a especificidade da experiência negra, fica para nós, as vítimas, a responsabilidade de reclamar os mortos e denunciar como genocídio o fenômeno político da morte em massa.
Vem de Steve Biko o alerta: ‘estamos por nossa própria conta’. É a carne negra, ‘a mais barata do mercado’, que está fora de lugar. A bandeira brasileira não nos cobre e a pátria não nos comporta porque o corpo negro é o depositário de uma incompatibilidade absoluta com a nação que se quer moderna, civilizada, européia, branca.
Passou despercebido, mas há uma analogia a ser feita entre a bandeira que o exército brasileiro fincou, no dia 25 de novembro de 2010, no alto do Morro do Cruzeiro, no Rio de Janeiro, como símbolo de conquista de território, e a bandeira que Paulo Sérgio queimava em Brasília, no 13 de abril de 2011. Na primeira, a bandeira manchada de sangue trazia a ordem branca, do asfalto, para a geografia suja e malvada do morro. O morro precisava ser trazido, ainda que àbalas de canhões, para o seu lugar submisso no projeto de dominação racial brasileira. No segundo caso, era o Brasil negro que se rebelava e denunciava o projeto genocida do Estado brasileiro. Em ambos os casos, a bandeira é o símbolo de um projeto de vida e de morte, um projeto necropolítico que a cada dia se sofistica e se torna imprescindível para a ‘paz’.
Neste Treze de Maio de luto e de lutas, bem poderíamos parafrasear Castro Alves e gritar com todos os pulmões: quem é esse povo que a sua bandeira empresta para cobrir tanto horror e covardia? A resposta talvez teríamos que buscar na reatualização contínua e dissimulada de um mito que funciona apagando a cor dos mortos. Uma nação racialmente antropofágica, ‘uma máquina de triturar gente’, um estado genocida….Orgulho de ser brasileiro? Queimemos a bandeira!
Jaime Amparo-Alves é antropólogo e jornalista