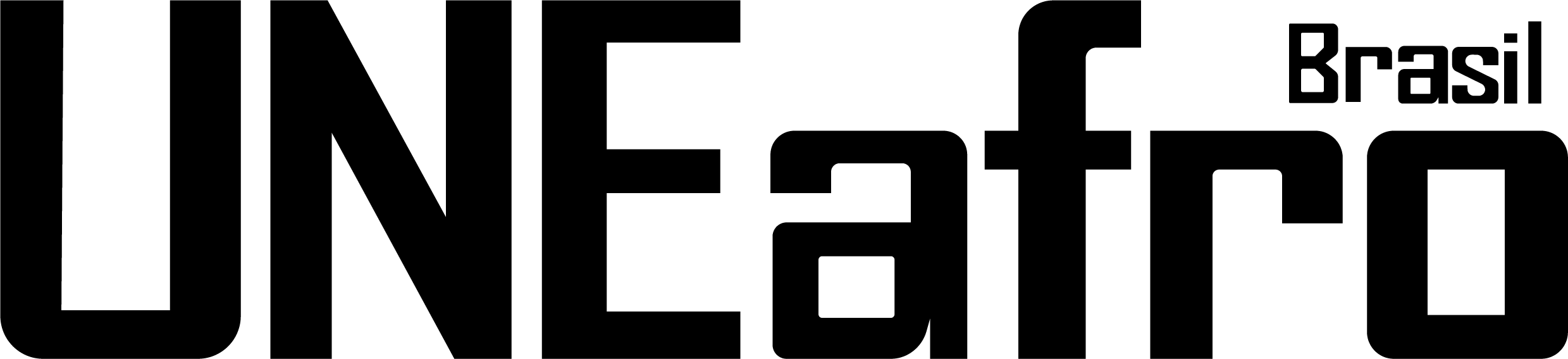Por: Caio Chagas
A Organização Mundial da Saúde recomenda como um dos principais protocolos de contenção do coronavírus o distanciamento social, medida comprovadamente eficaz que dificulta sua contaminação e transmissão. Mas, para parte da população LGBTQIA+, estar em casa por mais tempo significa sofrer violência física, verbal e psicológica da própria família. “Para essa população, os impactos decorrentes da Covid são maiores que os da própria doença”, aponta a presidenta da Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Intersexos (ABGLT), Symmy Larrat.
“A moradia é uma demanda que acompanha a nossa existência, quem nunca ouviu falar de uma pessoa trans que foi expulsa de casa? Tem pessoas que não têm a oportunidade de serem acolhidas em algum lugar e ou ficam em situações precárias ou ficam em situação de rua”, destaca a ativista. Em um comunicado emitido pela Organização das Nações Unidas (ONU) no mês de abril de 2020, é destacada a exacerbação do aumento de violências sofridas por LGBTQIA+ e mulheres por estarem em isolamento social dentro de suas residências.

Symmy Larrat, foi primeira travesti a ocupar a função de coordenadora-geral de Promoção dos Direitos LGBT, da SDH em 2015 | Foto: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil
O Brasil segue na liderança de assassinatos de pessoas trans há 13 anos, com o maior número de registros em todo o mundo. Segundo o Dôssie – Assassinatos e violências contra travestis e transsessuais brasileiras em 2021 feito pela ANTRA em 2021, foram 140 assassinatos de pessoas trans, sendo 135 travestis e mulheres transexuais, e 05 casos de homens trans e pessoas transmasculinas. “Tem algo que chega para nós de maneira muito dolorosa que é a violência. Tivemos um caso de uma menina que saiu do abrigo na região do ABC e optou por dormir na rua e foi queimada viva”, relata Symmy.
Para além das violências sofridas dentro de casa, abrigos públicos que acolhem pessoas em vulnerabilidade social têm dificuldade de tratar de gênero e sexualidade. Pessoas trans relatam abusos de outros abrigados, violências e expulsões que levam essas pessoas a retornarem para a rua. Pensando em mudar essa realidade, na cidade de São Bernardo do Campo e região do ABC, foi criada, em 2018, a Casa Neon Cunha. Organização social que pretende se tornar um espaço de acolhimento a pessoas LGBTQIA+ expulsas de casa e/ou em situação de rua.
A Casa Neon Cunha homenageia em seu nome a ativista independente Neon Cunha que, em sua trajetória de luta, questiona a branquitude e a cisgeneridade. Para atrair a confiança e prestar acolhimento, a casa desenvolve atividades educacionais, feiras de empreendedorismo, bazares e atendimento psicológico na região do grande ABC.
Symmy Larrat também atua como Gestora de Projetos da ONG, ela aponta que o espaço começou com a campanha de arrecadação para o custeio e que, para além da dificuldade de obter os recursos, também relatou dificuldade de negociação com o setor imobiliário. “Quando as pessoas do mercado imobiliário descobriram para o que seria a casa, começaram a colocar dificuldades para a compra. Então, para implementar, vimos que seria necessário ter um recurso para longo prazo, para garantir o conforto e local para as pessoas sem qualquer tipo de constrangimento”, contou.
Em seu dossiê ‘Assassinatos e violência contra travestis e transexuais em 2019’, a ANTRA aponta que 90% dessa população tem a prostituição como a principal fonte de renda, sendo que apenas 4% da população trans feminina se encontra em empregos formais. O mesmo relatório revela o dado assustador de 70% da população trans sem a conclusão do ensino médio. Um levantamento feito pela Associação Nacional de Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (ANDIFES) mostra que estudantes transexuais representam 0,01% dos alunos de Universidades Federais do Brasil.
Durante a pandemia, para além da sua arrecadação tradicional para a compra do imóvel, o projeto também tem se dedicado à distribuição de cestas básicas. “No começo da pandemia, recebemos mais doações, neste momento, essa falsa sensação de segurança fez com que elas caíssem, quem doa mais são pessoas comuns e, neste momento, essas pessoas também estão precarizadas”.
“Pensamos em uma estrutura física para atender cerca de 30 pessoas, essas são pessoas que a gente se relaciona e que já estão em situação de rua”, afirma Symmy. “Um outro perfil é o de pessoas que não querem mais ficar em suas casas e que não têm estrutura para se manter, o que leva elas ao risco de situação de rua”. Concluindo, a Gestora de Projetos destacou a importância da luta de pessoas trans por protagonismo de suas ações, “qualquer pessoa pode entender a nossa dor, mas a solução, ela está em nós. A solução nunca vai ser deixar de ser quem a gente é. Estamos nessa condição porque somos assim. Retroceder nunca, render-se jamais!”.
Entre os tambores e a desobediência
Em meio a avanços e retrocessos nas políticas públicas de inclusão, travestis e transexuais ainda sofrem com dogmas e tradições impostas pelo fundamentalismo religioso no Brasil. Mesmo com preconceito, essas pessoas querem reafirmar a importância de preservar o seu espaço de contato com o sagrado.
Thiffany Odara é Iyalorixá no terreiro Oyá Matamba, localizado na cidade de Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador, na Bahia. O seu contato com o Candomblé se deu através de sua família, que sempre cultivou práticas da religião de matriz africana. “Eu entendo que faço parte de uma filosofia de vida. Ainda que a sociedade diga que não, faço parte de gerações de mulheres que vêm do Candomblé”, pontua.
Os cultos afro-brasileiros são historicamente marginalizados, por toda a relação com o racismo estrutural do país, a introdução de discussões sobre opressões sociais fizeram de alguns terreiros locais com maior flexibilidade e aceitação de LGBTs. “Eu sou iniciada aos 16 anos de idade, o que, para mim, foi um grande desafio, porque eu sempre me identifiquei como mulher trans, e o candomblé é um espaço que não aceitava os corpos trans, então, LGBs eram bem-vindas, quando se tratava de transexuais, não eram aceitas nesses espaços porque há um processo de colonização trazido pelo cristianismo que nega existências trans”, afirma Thiffany.
A heteronormatividade dentro do candomblé sempre foi algo questionável, quando Oxumarê se mostra como uma entidade andrógena abolindo a divisão entre o masculino e o feminino ou, então, bissexual, como é o caso de Logunedê, Orixá caçador que é metade homem e metade mulher ou metade Oxum e metade Erinlé. Para a Yialorixá, exercer sua fé ancestral é um ato político. “Não posso acreditar que Deus fez o homem e a mulher conforme diz uma outra religião que a todo momento negou a existência de pessoas negras, o batismo é a comprovação disso, o negro tinha que ser batizado porque era considerado um ser sem alma. Isso é um apagamento cultural, histórico e ancestral que as populações aborígenes e africanas sofreram durante longos séculos”, critica.
Além de candomblecista, Thiffany é redutora de danos, educadora social e pedagoga. No ano de 2020, publicou o livro ‘Pedagogia da Desobediência: Travestilizando a Educação’, onde faz um diálogo entre o feminismo negro e a luta do movimento trans, propondo uma educação transgressora que propõe quebras de paradigmas ligados à cisgeneridade. “Essa educação que ainda não entendeu que podemos potencializar o senso crítico desses sujeitos. Não posso negar a sociabilidade em um espaço que é voltado para a pluralidade como a escola”.
Sua trajetória na religião, muitas vezes, já lhe rendeu ameaças e inimigos. “Ser uma mulher trans, negra e de terreiro é não dialogar com a colonialidade”, afirma. Concluindo, Thiffany aponta que, para a quebra de uma cadeia de violência contra as religiões de matriz africana, é necessário que, dentro dos espaços, haja inclusão de pessoas trans para a quebra da reprodução de um modelo eurocêntrico. “As pessoas trans não são vistas como pessoas, a gente tá falando de uma sociedade que ao longo de séculos foi dominada por processos coloniais, arquitetônicos, eurocêntricos e cristãos que determinam as conformidades de gênero. Se elas negam a permanência de pessoas trans, elas também estão contribuindo para que esse ódio religioso seja perpetuado”.
*Reportagens feitas para o Jornal Identidade da Uneafro Brasil em junho de 2020