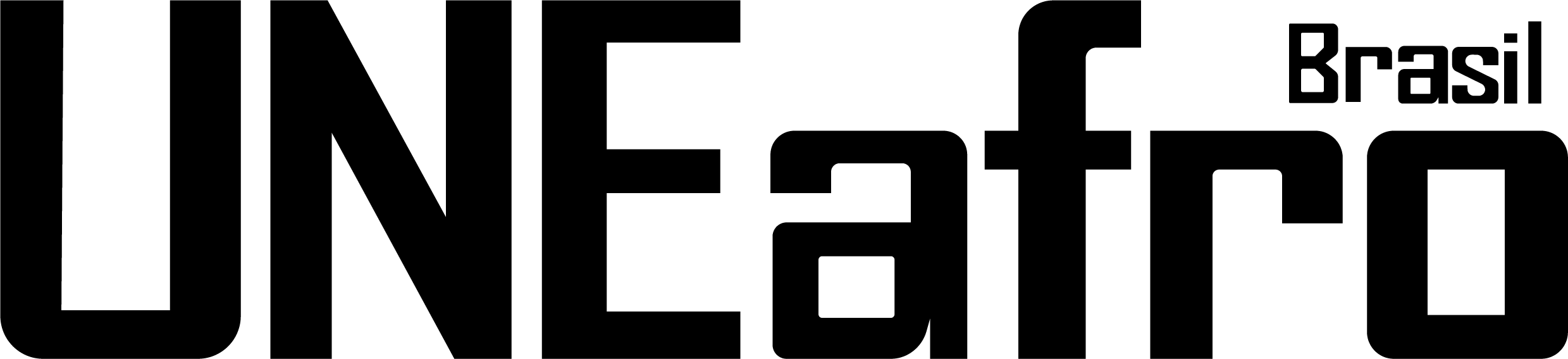USP, UNICAMP e UNESP estão, infelizmente, atrasadas vinte e cinco anos em relação ao processo democrático do nosso país.
Helio Schwartsman, colunista da Folha de São Paulo, escreveu um artigo nesta sexta-feira contra as eleições diretas para reitor na Universidade de São Paulo, demanda principal dos alunos que atualmente ocupam a reitoria. O colunista considera que a escolha direta seria antidemocrática, justificativa sintomática sobre a ideia e prática contemporânea da democracia. Segundo ele, como o orçamento da USP é muito grande e vem de impostos, já que ela é pública, caso as eleições fossem diretas, ou seja, caso cada aluno, professor e funcionário tivesse o direito de votar no candidato que considera mais apto para dirigir a universidade – sem submeter sua escolha posteriormente ao governador do estado, como acontece atualmente – ela perderia seu caráter de universidade e se tornaria uma “associação corporativa”. O salto argumentativo é acrobático e, inclusive, mortal. O colunista segue propondo um modelo que seria mais democrático e que é, coincidentemente, o atual: que a Universidade vote da maneira que achar melhor, dando maior peso ao voto de professores mais antigos, e que em seguida, “para que o circuito da democracia feche”, a lista com os três mais votados seja submetida ao governador que escolherá de própria cabeça e coração, representante legítimo do povo que é, o reitor (mesmo que ele não tenha sido o mais votado, como é o caso atualmente).
A lógica de Schwartsman, se transportada para o plano nacional, significaria mais ou menos o seguinte: como o orçamento de um estado é gigantesco e vem de impostos (muitos deles pagos pelo resto do país), seria perigoso permitir às pessoas que moram no estado eleger seu próprio chefe de executivo. Deveríamos voltar a ter governadores biônicos e, já que se está mexendo na constituição, reservar o direito de voto a uma camada minoritária e mais velha da população (ou pelo menos garantir que a vontade deste grupo nunca fosse contrariada pela opinião do resto, a maioria). Como Schwartsman não fala em seu texto de uma categoria inteira e fundamental da universidade, os trabalhadores, assumimos que eles não teriam direito a voto, nem na universidade e, nesta hipótese, nem no estado.
Este exagero interpretativo tem por função evidenciar a seguinte questão: o que teria, uma das maiores e mais importantes universidades do hemisfério sul, a contribuir no debate público sobre cidade, administração pública, trabalho e democracia se seu processo eleitoral mais importante é regido por excrescências jurídicas da última ditadura? A função pública da universidade, para a qual são pagos os impostos, é principalmente refletir sobre a sociedade que a mantém. Neste sentido, há um descompasso histórico entre cidade e universidade que se tenta corrigir agora, a preço da legitimidade crítica desta última.
O velho argumento que exige a tutela do governador e de professores mais velhos tem por detrás um pensamento claro: a maioria das pessoas é irresponsável, principalmente aqueles intelectuais universitários, “descolados do real”, que não tem capacidade prática para dirigir uma grande instituição. Infantis, eles precisam de uma tutela na hora da “prática” (seja lá o que isto for). Por fim, que quando a decisão é sobre grandes quantias de dinheiro e poder, não cabe perguntar à maioria.
Este pensamento segue perfeitamente a linha tomada pelos governos europeus e estadunidense em relação à crise econômica atual: quando a coisa é séria, crítica, abre-se mão da democracia. Na Itália, não houve pudor em retirar um primeiro-ministro eleito (por pior que fosse) e colocar em seu lugar um tecnocrata da União Européia. Nos EUA, os criminosos de Wall Street foram blindados através de uma aberração jurídica e financeira apelidada de “too big to fail”, “grandes de mais para falhar”. Seguindo a mesma linha de raciocínio, uma camada da população, alinhada ao partido que atualmente governa o estado e ao pensamento mais conservador e minoritário entre a comunidade acadêmica uspiana, deseja manter o faz-de-conta democrático: as crianças brincam de escolher o reitor e o pai governador escolhe quem melhor lhe convier. Afinal, a grana é alta de mais para deixar na mão de qualquer um que possa ser eleito democraticamente (pior ainda se for por uma maioria de estudantes e funcionários). A diferença entre a aplicação deste pensamento a uma universidade ou uma cidade, estado ou país não existe.
A USP publica, mas não pratica, em público. O pensamento livre tem por pressuposto a autonomia. Isto foi deixado claro em 2007 por alunos, professores e funcionários das três universidades estaduais públicas que se manifestaram contra decretos que, na época, tentavam acabar com a autonomia de pesquisa. O modelo atual de eleição de reitor pressupõe um ceticismo absoluto em relação ao pensamento sem tutela e, de forma mais alarmante, à democracia. Se professores, alunos e funcionários desta universidade, imersos cotidianamente em ambiente fértil para o estudo e a reflexão, não conseguirem passar por um processo democrático sem serem corrompidos pela promessa de salários astronômicos ou de “lagosta no bandejão” (para citar o colunista), quem, neste país ainda miserável, conseguirá? A pergunta principal por trás destas questão e que nos cabe responder é: nossa sociedade ainda acredita realmente na democracia?
Tomaz Amorim Izabel, é professor e mestre em Teoria Literária pela Unicamp.