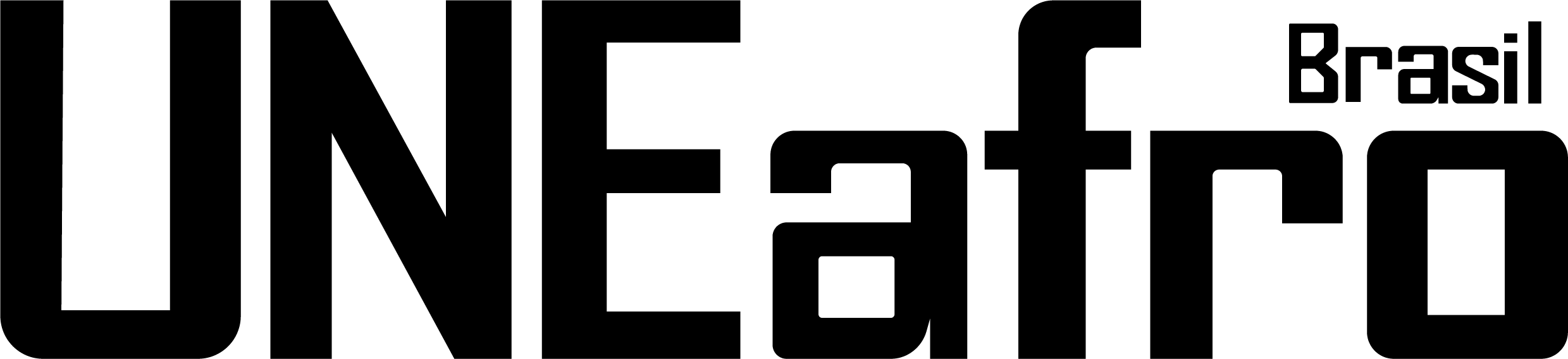POR CIARA NUGENT E THAÍS REGINA / SĀO PAULO, BRASIL, 16 DE DEZEMBRO DE 2020, Revista TIME
Dezenas de pessoas dançam ao redor de uma fogueira no pátio entre dois grandes galpões de São Paulo. É início de novembro e os membros do Quilombaque – um centro da comunidade negra em Perus, um bairro pobre da região noroeste da cidade – estão comemorando. Eles angariaram 50% dos fundos de que precisam para comprar o espaço que ocuparam na última década e evitar o despejo pelo proprietário, que o está vendendo. Enquanto o fogo cospe brasas para o céu escuro e uma batida de tambor constante marca um ritmo, o grupo canta: “Vou construir meu refúgio, vou construir meu lugar, vou construir meu quilombo”.
A palavra quilombo – derivada de línguas trazidas ao Brasil por africanos escravizados – era o nome dado às comunidades rurais estabelecidas por aqueles que escaparam da escravidão nos séculos anteriores à abolição do Brasil em 1888 – o último país das Américas a fazê-lo. Pelo menos 3.500 desses quilombos rurais ainda existem. Mas, hoje, o quilombo está ganhando um significado mais amplo. Os jovens negros brasileiros dizem que precisam formar novas comunidades de resistência negra para lidar com uma sociedade ainda moldada em todos os níveis pelo legado da escravidão.
As tensões raciais no Brasil foram inflamadas com a eleição em 2018 do presidente de extrema direita Jair Bolsonaro que, na campanha eleitoral, comparou os quilombolas negros ao gado e disse que “eles não servem nem para procriar”. Mas o presidente é apenas a ponta do iceberg quando se trata do racismo sistêmico do Brasil. Cerca de 56% dos brasileiros se identificam como negros – a maior população afrodescendente fora da África – ainda assim os negros representam apenas 18% do congresso, 4,7% dos executivos nas 500 maiores empresas do Brasil, 75% das vítimas de assassinato e, dessas, 75% foram mortas pela polícia.
As coisas estão piorando. Durante a pandemia da COVID-19, os negros brasileiros, que já ganham apenas 57% do que os brancos brasileiros ganham em média, morreram e perderam seus empregos em uma taxa mais elevada. Os assassinatos policiais aumentaram para 5.804 em 2019 – quase seis vezes mais do que os números comparativos com os EUA. Bolsonaro sancionou um projeto de lei anticrime no ano passado que incluía uma justificativa de “autodefesa” para o uso da força pela polícia; o congresso o aprovou com algumas limitações em dezembro de 2019, embora os críticos ainda digam que isso concede aos oficiais uma impunidade significativa. Ativistas e acadêmicos têm acusado o Estado brasileiro de empregar uma “política de morte” contra a população negra.
Mas, em 20 de novembro, o vice-presidente Hamilton Mourão afirmou que “racismo não existe no Brasil”. Ele respondia a protestos contra o espancamento e assassinato brutal de João Freitas, um negro desarmado, por seguranças de um supermercado na cidade de Porto Alegre, crime que foi registrado por câmeras de segurança. Por sua vez, o presidente Bolsonaro disse que grupos de justiça social que protestavam contra o racismo estavam “tentando trazer tensões ao nosso país que são alheias à nossa história”.
Em uma era de injustiça racial declarada ignorada por aqueles que estão no poder, os negros brasileiros estão criando espaços que celebram explicitamente a identidade negra e fortalecem sua resistência ao racismo. Os negros nas cidades estão formando quilombos urbanos, enquanto outros estão aquilombando – a forma verbal da palavra – nas redes sociais, na arte e na literatura. Ativistas políticos negros têm discutido a formação de um quilombo no congresso. “Nosso principal objetivo é combater o genocídio da população negra”, diz Clébio Ferreira, 36, que fundou o Quilombaque com seu irmão em 2005 em resposta à pobreza e à violência enfrentada por jovens negros em Perus, onde viveu a maior parte de sua vida . “Quando construímos um quilombo, estamos nos unindo para construir um novo mundo”.

O polo da comunidade negra da Quilombaque, em Perus, São Paulo, em 5 de dezembro de 2020. Pétala Lopes para TIME
A negação do governo Bolsonaro ao racismo no Brasil tem raízes históricas. Quando o Brasil emergiu da era da escravidão no final do século XIX, as elites promoveram uma ideia do país como uma “democracia racial” – uma mistura supostamente harmoniosa de culturas indígenas, europeias brancas e africanas negras. Mas, ao mesmo tempo, políticos, mídia e acadêmicos também incentivaram os descendentes de africanos escravizados e comunidades indígenas a se casarem e terem filhos com descendentes de colonizadores brancos, bem como um influxo de imigrantes europeus, a fim de produzir cada vez mais gerações de pele mais clara e, assim, “embranquecer” o país. Alguns brasileiros conservadores ainda idealizam seu país como uma democracia racial, onde a discriminação ou conflito racial não pode existir.
Agora, os negros brasileiros estão cada vez mais olhando para um outro aspecto da história para obter lições sobre como lidar com um país racista. Dos 5 milhões de escravos africanos trazidos para o Brasil, dezenas de milhares conseguiram fugir das plantações. Eles se instalaram em áreas rurais, formando comunidades fora da sociedade branca. Para descrever esses novos assentamentos, eles tomaram emprestada a palavra “quilombo” (muitas vezes, traduzida livremente como “acampamento de guerreiros”) das línguas bantu faladas por algumas comunidades na África subsariana, diz Stéfane Souto, uma pesquisadora cultural de Salvador, nordeste do Brasil. “A palavra tem muitos significados, mas, basicamente, é uma prática social praticada por guerreiros nômades; pode referir-se aos próprios guerreiros e aos territórios onde se encontram”.

Homem dança em evento do Dia da Consciência Negra em frente ao monumento em homenagem a Zumbi dos Palmares, líder quilombola e símbolo da luta contra a escravidão no Brasil, no Rio de Janeiro, em 20 de novembro de 2019. Bárbara Dias — AGIF / AP
O maior quilombo do Brasil foi Palmares, que existiu por grande parte do século XVII e chegou a contar com até 20 mil membros. Hoje, empresta seu nome à Fundação Cultural Palmares, instituição financiada pelo estado criada em 1988 para proteger e apoiar os direitos dos quilombos.
Na década de 1970, Beatriz Nascimento, uma figura acadêmica e influente no movimento dos direitos dos negros do século 20 no Brasil, começou a chamar a atenção para como os quilombos poderiam servir à causa mais ampla do antirracismo no Brasil. Em artigos e no documentário Ori de 1989, ela explorou o conceito de quilombo e traçou os laços entre as comunidades negras brasileiras e as tradições culturais e políticas de vários países africanos. “Nascimento sabia que quilombos não eram lugares fixos”, diz Alex Ratts, antropólogo e autor de uma biografia sobre Nascimento. “Foi ela quem ampliou o significado do termo quilombo. Em seu pensamento, poderia haver quilombos na literatura, na história – até uma pessoa poderia ser um quilombo”. Hoje, 25 anos após sua morte, seu trabalho está constatando um interesse renovado de uma geração mais jovem. “Quando as pessoas lêem o trabalho dela agora, elas dizem “é isso que precisamos fazer”, em um país como este, precisamos aquilombar”, diz Ratts. “Não é uma conversa de pessoas em quilombos rurais. É uma coisa muito urbana, um movimento político muito contemporâneo”.
Bianca Santana, escritora e ativista, de São Paulo, diz que a “intensificação do conflito racial” no Brasil impulsionou o crescimento desse movimento. “Estamos vendo uma proliferação de aquilombamentos – nas favelas, nas universidades, nos movimentos literários, no hip-hop – porque a comunidade negra precisa se reorganizar”, diz ela.
Em agosto, Tamara Franklin, música mineira de 29 anos, lançou o álbum Fugio – Rotas de Fuga Pro Aquilombamento. Franklin conta que só recentemente começou a aprender sobre a história dos negros que escaparam da escravidão para formar quilombos e leu muito sobre eles durante o confinamento da COVID-19 em seu estado natal, Minas Gerais. “Quando eu olho para a situação do negro no Brasil hoje, vejo que a fuga ainda é necessária. Ainda precisamos fugir desses territórios, que nem sempre são físicos, às vezes, são econômicos, políticos, sociais”.
Para sua geração, diz ela, quilombo significa “um lugar onde podemos nos encontrar com nossos iguais e cuidar uns dos outros. Mesmo que não seja um território físico”. Arte e música sobre aquilombamento, oficinas de ativismo cultural e político e conexão nas redes sociais podem proporcionar esse espaço, diz ela.

Criança quilombola segura flor de bananeira em Galvão, São Paulo, em outubro de 2019.

Ativista e escritora Bianca Santana, 36, no Parque da Água Branca, em São Paulo, em 5 de dezembro de 2020.
Quilombos urbanos, espaços físicos para as comunidades negras se reunirem para atividades culturais, educacionais e políticas, também surgiram em todo o Brasil, principalmente em bairros de favelas de maioria negra nas periferias de cidades como Rio de Janeiro e São Paulo.
Ferreira diz que criar o Quilombaque de São Paulo foi uma forma de lutar contra a imagem negativa da negritude que a preferência histórica da sociedade brasileira pelo “branqueamento” fomentou. Quando o Quilombaque começou, diz ele, Perus não tinha espaços culturais. Ele começou a dar aulas de bateria e outros eventos culturais como capoeira e aulas de arte. Agora, o Quilombaque mantém uma biblioteca comunitária e uma agência de turismo para estimular a economia local. Desde a eclosão da COVID-19, os eventos culturais foram suspensos e o centro tem se concentrado na preparação de cestas básicas para as famílias afetadas pela pandemia. “As questões em que estamos trabalhando aqui são: Como podemos fazer uma pessoa se ver como negra e ter orgulho de ser negra? Como podemos construir essa autoestima para que um negro não abaixe a cabeça ao passar por policiais?”.
Enquanto um conceito moderno de quilombo cresce, as comunidades rurais que o inspiraram estão sob ataque. Jacira Oliveira, 48, mora no Quilombo Galvão, a poucos quilômetros de Eldorado, cidade natal de Bolsonaro, no estado de São Paulo. Oliveira criou seis filhos no quilombo e atua no comitê de coordenação da comunidade. Fundado na década de 1830, às margens do rio Pilões, Galvão enfrentou muitos dos mesmos desafios de outros quilombos: descaso do estado com sua infraestrutura, altos índices de pobreza e disputas com fazendeiros que tentam se apoderar de suas terras. Em 1982, o primo de Oliveira foi morto a tiros durante uma dessas disputas. “Apesar disso, as coisas melhoraram nas últimas décadas”, diz ela. A constituição brasileira de 1988 permitiu aos quilombos obter direitos legais sobre suas terras. Logo depois, órgãos governamentais foram criados para proteger e assistir os quilombos, incluindo a Fundação Cultural Palmares e uma seção do órgão fundiário do estado de São Paulo. Nos anos 2000, os governos de esquerda introduziram programas sociais que ajudaram a apoiar muitas das comunidades.
Hoje, muito desse progresso está ameaçado. Oliveira é assombrada pelas palavras de Bolsonaro em discurso de campanha no Rio de Janeiro em 2017. “Já estive em um quilombo”, disse ele. “O afrodescendente mais leve ali pesava 7 arrobas. Eles não fazem nada. Nem para procriar eles servem mais”. Ele acrescentou que cortaria o financiamento e os direitos à terra das comunidades quilombolas se eleito. “Suas palavras abriram uma ferida e ela ainda não sarou”, diz Oliveira. “Eles continuam tentando tirar nossos direitos, mas nós estamos resistindo”.
Em 2019, o presidente nomeou Sérgio Camargo – um opositor declarado dos grupos de justiça social que nega a existência de racismo estrutural – para estar à frente da Fundação Cultural Palmares. Ele diminuiu drasticamente a velocidade com que o Estado está concedendo reconhecimento oficial às comunidades quilombolas, de acordo com defensores da comunidade. Em julho de 2020, Bolsonaro vetou seções de uma lei que exigia que o Estado fornecesse apoio financeiro emergencial a quilombos e comunidades indígenas durante a pandemia. Em setembro, o governo destruiu os orçamentos de 2021 do órgão fundiário que trata das disputas territoriais, reduzindo 90% dos recursos do departamento responsável pelo reconhecimento e indenização dos quilombos. De acordo com a mídia local, dois terços do orçamento total do órgão agora são alocados para compensar os agricultores – uma base de apoio fundamental para o presidente.
“Estamos vendo tudo pelo que trabalhamos, tudo o que conquistamos, sendo desfeito”, diz Selma Dealdina, secretária executiva da CONAQ, uma organização nacional sem fins lucrativos que representa a grande maioria dos quilombos rurais do Brasil. Embora reconheça a luta compartilhada de todos os ativistas antirracistas negros no Brasil, Dealdina alerta que o movimento urbano que celebra os quilombos precisa garantir que também trabalhe pelos direitos e pela prosperidade das comunidades quilombolas rurais, e não apenas que se aproprie do termo. “Você está realmente tentando apoiar os quilombos? Comprando comida em comunidades quilombolas? Lendo livros de autores quilombolas? Para mim, aquilombar tem que significar ajudar os outros. Caso contrário, é apenas uma tendência”.
O momento de racismo mais “explícito, nu, bruto” pelo qual o Brasil está passando não é uma surpresa para as comunidades negras, diz Dealdina. “Sempre soubemos que ele estava lá. Um negro neste país não pode ter um momento de descanso, você tem que ficar de olhos abertos 25 horas por dia”, diz ela. Isso não mudará a natureza dos quilombos, que estão desempenhando o papel que desempenham há séculos, acrescenta ela. “Estaremos aqui resistindo, seja nas cidades ou no campo. Quilombos são a própria resiliência”.

Os pés de Gabriela, sobrinha de Jacira Oliveira, no quintal da casa de sua tia no Quilombo Galvão, em São Paulo, em outubro de 2019.
Para Santana, a escritora e ativista, a eleição de Bolsonaro em outubro de 2018 foi parte de uma reação contra os avanços feitos não apenas pelos quilombos, mas por toda a população negra do Brasil como resultado de programas sociais e políticas de ação afirmativa introduzidas por governos esquerdistas ao longo dos anos 2000 – incluindo cotas raciais para ingresso na universidade e empregos públicos. “Antes, quando os negros não tinham acesso aos mesmos direitos dos brancos, o Brasil podia fingir não ser um país racista por meio do mito da democracia racial”, diz ela. “Agora, votar em alguém que é racista, misógino, homofóbico, que elogia a tortura e o regime militar, sugere que muitos brasileiros estão tentando colocar as coisas do jeito que acham que elas deveriam ser: negros em posições subalternas”.
Os quilombos podem ajudar a impulsionar uma resposta política antirracista ao momento atual. Nas eleições municipais do Brasil, o grupo ativista político Quilombo Periférico fez uma candidatura coletiva de vários membros à Câmara Municipal de São Paulo, garantindo uma cadeira para a militante local Elaine Mineiro. “Aquilombamento na política significa nos unirmos para defender os direitos dos negros, dos pobres, dos LGBTQ – exigir novas políticas e ações afirmativas necessárias se você quiser ser antirracista”, diz Mineiro.
O avô de Mineiro cresceu em um quilombo tradicional. Ela diz que é crucial que ativistas negros nas cidades e áreas rurais coloquem a história dessas comunidades no centro de seus movimentos políticos, porque a educação e a mídia brasileiras tendem a apagá-la em favor do mito da democracia racial. “Eles tentaram tirar nosso passado de nós, e o passado é onde você olha para aprender”, diz ela. “É extremamente importante que as pessoas possam entender por que as coisas são como são. Para entender que a sociedade como é agora não nasceu, foi construída. E se foi construída, pode ser reconstruída”.
Tradução: Renata Toni